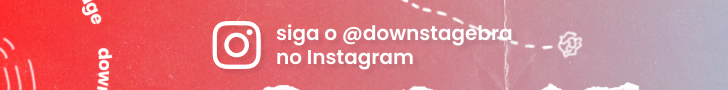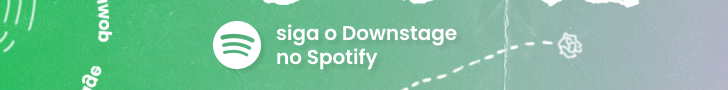A cena emo ainda é muito branca e isso deveria ser um problema para todo mundo
Muitos anos se passaram, a cena ganhou um novo fôlego, mas segue repetindo o mesmo problema

Por Guilherme Tintel
Sem pensar muito: quantas vezes você foi ao show de uma banda emo com um ou mais integrantes negros?; desafio dois: quantas vezes você frequentou festas emos que tinham um ou mais DJs negros?
Ser negro, num país tão racista quanto o Brasil, é uma tarefa complicada para qualquer pessoa, inclusive para os jovens pretos e emos que, ali em meados dos anos 2000 e 2010, curtiam sofrer com Fresno, Panic! at the Disco, NX Zero, Hateen, Paramore entre outras bandas, mas não se encaixavam no estereótipo do emo branco, magro e de cabelo liso escorrido pelo rosto.
Muitos anos se passaram, a cena ganhou um novo fôlego há pouco tempo, com a volta de bandas antigas e ascensão de novos nomes, mas segue repetindo o mesmo problema de ainda ser muito branca.

Eu, que cresci sendo essa exceção negra no emo, senti muito disso na pele e, com isso, colecionei inúmeras inseguranças. Lembra dos primórdios das redes sociais para fotos, como Fotolog, Flogão ou We Heart It? Sofri ataques racistas em todas elas. Orkut? Eu literalmente cheguei ao ponto de editar minhas fotos pra parecer ter a pele mais clara. Até o Buddy Poke, inofensivo aplicativo em que você criava um avatar pra interagir com outros amigos, pra mim foi um problema.
Pra além da internet, assim como na década passada, ainda é difícil encontrar pessoas negras em posições de destaque dentro dessa cena. Temos Willow lá fora, KennyHoopla, as meninas talentosíssimas do Meet Me at the Altar, mas ainda é um número ínfimo comparado à maioria branca do gênero. Os DJs das festas que você frequenta, os donos das festas que esses DJs tocam, a grandessíssima maioria do público dentro desses rolês. Quase todos brancos.

Há cerca de 10 anos, eu trabalho como DJ, majoritariamente por São Paulo, dessa quase uma década, pelo menos metade eu dediquei também a produzir festas próprias e, através delas, mudar a narrativa dessas cenas sempre tão brancas, masculinas e heteronormativas. Carrego comigo a ideia de que o público estará onde puder se enxergar. Papo de representatividade e pertencimento. Logo, se a cena ser dominada por homens brancos é um problema, me colocar nessa posição de destaque, ao lado de outras pessoas negras, assim como mulheres e/ou LGBTQIAP+, é o primeiro passo para conquistar também essa diversidade na pista. E tem dado certo.
Não ironicamente, apesar dos anos de carreira e da experiência enquanto jovem que cresceu consumindo a música e cultura emo nacional e internacional, eu só comecei a receber convites pra participar de festas do meio depois que criei a minha – e iniciei tantas discussões sobre a importância desses espaços serem ocupados pelos corpos mais diversos possíveis, a fim de não insistir no monólogo branco e, por sua vez, racista, que já soava atrasado mesmo para duas décadas atrás.
Muitas vezes tratada como uma pauta secundária, a luta antirracista deve ser uma questão prioritária para absolutamente todas as pessoas e passa, sobretudo, por esse setor cultural, responsável por essa idealização do que é o padrão e, consequentemente, do que não deveria se encaixar. E nós pertencemos a esse lugar – principalmente quando falamos do rock, gênero musical literalmente criado e pavimentado por pessoas pretas. Aos palcos, às pistas. Sem tempo para os clichês brancos e lisos; de olhos brilhando para as franjas crespas e cacheadas, os dreads e blacks coloridos, e com espaço de sobra pra que, por baixo das roupas pretas, xadrezes ou como quer que estejam vestidos, haja muita pele retinta.
Quantas vezes você, pessoa branca e fã de rock, se sentiu incomodada pela falta de pessoas negras nos palcos, pistas e lugares que frequenta?